 Jorge Luiz Bezerra
Jorge Luiz BezerraNas ruas de São Paulo, a criminalidade já não é mais um tema de estatística: é uma presença cotidiana. De bairros periféricos ao centro expandido, cresce a sensação de que a ordem se esvai em pequenos delitos que, ao se acumularem, corroem a confiança da população no sistema de justiça. A sensação de insegurança só aumenta e, com ela, a descrença nas instituições, em que pese os esforços e até bons números contra o crime da Secretaria de Segurança Pública comandada pelo Deputado Federal (licenciado) Guilherme Derrite.
O cidadão sente-se preso em casa, refém de uma engrenagem pública tida como ineficaz. O Judiciário, o Ministério Público, as polícias, o sistema prisional e principalmente, o conjunto de leis penais fracas e lenientes são acusados por parte expressiva da sociedade de não oferecerem a proteção necessária. O Direito Penal posto, quando atua, é frequentemente visto como seletivo, ou seja, duro com os mais pobres e benévolo com os que podem pagar grandes escritórios de advocacia. Entre aqueles poderosos que tem condições de bancar advogados influentes, além dos ricos empresários, se incluem os membros das cúpulas das grandes facções criminosas transnacionais, como o PCC - Primeiro Comando da Capital, que monopoliza o crime organizado em solo paulista.
Diante desse cenário, é urgente resgatar a importância da Criminologia, ciência que se propõe a compreender o crime antes que ele ocorra — e não apenas puni-lo depois. Por meio de uma abordagem interdisciplinar, a Criminologia concerta saberes da sociologia, psicologia, psiquiatria, biologia e estatística para interpretar os fatores que concorrem para a prática criminal. Esses fatores não são únicos ou isolados, como já se pensou no passado. Hoje, sabe-se que o crime nasce de uma rede complexa de causas sociais, individuais e situacionais.

Bandura e a aprendizagem da violência nas ruas
Dentro desse arcabouço explicativo, ganha destaque a Teoria da Aprendizagem Social, formulada pelo psicólogo Albert Bandura (Social Learning Theory;1977) . Segundo ele, comportamentos — inclusive os violentos ou criminosos — são aprendidos através da observação, imitação e identificação com modelos. Não é necessário vivenciar a violência diretamente para reproduzi-la; basta vê-la ser praticada e não punida.
Nas ruas de São Paulo, cenas diárias de agressividade, desrespeito à autoridade, pequenos delitos e conflitos banalizados acabam se tornando modelos de comportamento para jovens e adultos. Essa exposição repetida à violência cotidiana, sem uma resposta institucional adequada, produz um fenômeno que Bandura chamou de dessensibilização: a perda progressiva da reação moral e emocional frente ao crime.
O que antes chocava, hoje é ignorado. O que antes causava indignação, hoje é filmado e compartilhado como entretenimento. Esse ciclo de dessensibilização e imitação retroalimenta a violência urbana.

Pequenos crimes, grandes consequências
É nesse ponto que a Teoria das Janelas Quebradas, proposta por George Kelling e James Q. Wilson (Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety publicado na The Atlantic Monthly; 1982), oferece uma leitura complementar. Ela sugere que sinais de desordem — como pichações, lixo acumulado, pequenos furtos —, quando ignorados, criam um ambiente que comunica permissividade, abrindo caminho para crimes mais graves. A cidade transmite mensagens — e a impunidade é uma delas.
Bandura e Kelling, em campos diferentes, chegam a conclusões semelhantes: a violência é, muitas vezes, imitada, aprendida e normalizada — e se não for contida em sua forma mais branda, tende a escalar.
O crime como cálculo racional
O filósofo Jeremy Bentham ( An Introduction to the Principles of Morals and Legislation;1789) , pai do utilitarismo, via o comportamento criminoso como fruto de um cálculo racional entre prazer e dor. Se o ganho do delito parecer superior à punição esperada, o indivíduo tende a delinquir. É o que justifica políticas públicas que aumentem a percepção de risco para o infrator, sem necessidade de tornar o sistema mais violento — apenas mais inteligente.

Tecnologia aliada à prevenção
São Paulo conta hoje com dois programas estratégicos para integrar a vigilância urbana: o Muralha Paulista, voltado ao monitoramento de entradas e saídas do Estado, e o Smart Sampa ( da Prefeitura de São Paulo), que utiliza câmeras inteligentes para mapear e responder a situações de risco em tempo real. Essas ferramentas, porém, só alcançarão seu potencial máximo se forem integradas a protocolos de ação baseados em evidências, com suporte da Criminologia.
O chamado Policiamento orientado por Evidências (Evidence-Based Policing – EBP) que foi desenvolvido pelo criminólogo americano Lawrence W. Sherman, professor da Universidade de Cambridge e da Universidade da Pensilvânia nos anos 90, defende que o uso de dados confiáveis deve guiar o trabalho policial, focando recursos em locais, horários e perfis de maior risco. Comportamentos suspeitos podem ser identificados mais cedo e abordagens, padronizadas para evitar abusos e aumentar a eficiência.
Relação com a Criminologia e Políticas Públicas
Sherman (Evidence-Based Policing;2002) – Ideas in American Policing - Police Foundation) defende que o policiamento deve ser uma prática baseada em conhecimento científico, assim como a medicina é guiada por evidências clínicas. Ele afirma que a ausência de evidências não é evidência de eficácia, e por isso políticas policiais devem ser testadas como hipóteses e submetidas a revisões críticas.
É válido salientar, que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) tem adotado práticas alinhadas aos princípios do Policiamento Orientado por Evidências, embora não haja uma implementação formalizada ou institucionalizada desse modelo em sua totalidade. Registre-se, porém que, o "Smart Sampa" e o Muralha Paulista são iniciativas que indicam uma tendência em direção à utilização de evidências empíricas e tecnologias na estratégia de segurança pública.
Justiça com legalidade e rigor
Combater os chamados "crimes de menor potencial ofensivo" não é sinônimo de repressão cega, mas de atuação coerente. O abandono das pequenas infrações leva à naturalização da desordem. Portanto, é preciso agir com rigor legal, justiça social e proporcionalidade, criando protocolos claros para as forças de segurança lidarem com reincidências e situações de risco urbano, respeitando os direitos fundamentais.
A cidade como laboratório vivo
Na década de 1920, os sociólogos Robert Park e Ernest Burgess (The City ;1925) , da Escola de Chicago, já alertavam para a influência do espaço urbano na criminalidade. Para eles, a cidade é um “organismo vivo”, e a desorganização social — marcada pela pobreza, migração desordenada, desemprego e ausência de instituições locais — favorece o surgimento da criminalidade.
Park afirmava que “é necessário estudar a cidade como se fosse um laboratório social em movimento”, e que a prevenção do crime deveria começar com a reestruturação das relações comunitárias, restaurando laços, fortalecendo lideranças locais e promovendo coesão social. Burgess, por sua vez, identificou as zonas de transição urbana — onde o abandono institucional favorece a delinquência — como os pontos centrais da intervenção preventiva.
Como nos ensinaram Park e Burgess, a chave para a segurança não está apenas no policiamento, mas na recuperação dos vínculos comunitários e na ocupação ordenada dos espaços urbanos. É hora de ouvir a Criminologia — e deixar que a ciência colabore com a polícia a devolver a São Paulo as ruas que o medo tomou.
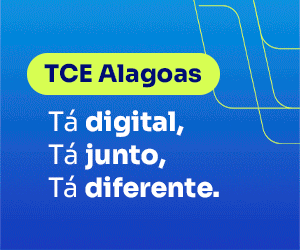

(82) 996302401 (Redação) - Comercial: [email protected]
© 2025 Portal AL1 - Todos os direitos reservados.
